REVISTA NAVALHISTA — Ao longo da trajetória de um escritor, cada gênero literário parece abrir uma porta diferente, algumas mais íntimas, outras mais expansivas, mas todas exigindo novas inspirações. Você, autor de muitos livros de contos e poesia, e agora lançando seu primeiro romance, Só Vale A Pena Se Houver Encanto (Caos & Letras, 2025) pode nos dizer qual é a grande diferença entre escrever narrativas breves e mergulhar no fôlego longo de um romance?
ANDRÉ GIUSTI — É um pouco óbvio o que vou dizer, mas acho que essa diferenciação passa pelo lógico, ao menos e um primeiro momento. No romance, tudo é amplificado, começando pelo sacrifício do autor, sacrifício físico, inclusive. Um conto, dependendo do tamanho e do tempo que se tenha para escrever, pode ficar pronto em um, dois dias. Por sua extensão, mesmo que seja um livro com 120 páginas, tamanho que segundo o mercado é o ideal hoje em dia, o romance precisa de planejamento, e de algo que a literatura em qualquer gênero necessita: disciplina. Mais do que outros gêneros, um romance não deve ser escrito apenas quando se “tem inspiração”. O que leva o autor à inspiração é a disciplina de escrever com regularidade, com dias e horários reservados. Quando se tem disciplina, as ideias vêm, e um romance precisa disso, de que as ideias venham todos os dias. Do contrário, ele vai morrer feito planta que não vinga. Há outros aspectos, como coerência na construção do personagem (ele não pode agir de um jeito no início e, no final, ser incoerente com a forma como agiu, a não ser que o autor provoque isso, que explique isso), e a necessidade de manter o leitor preso em cada página. Diz-se que no conto o autor precisa ganhar o leitor por nocaute, logo no primeiro parágrafo, e, no romance, por pontos. Acho que hoje em dia, com tanta gente publicando e tanta dispersão e falta de concentração das pessoas, no romance, a gente precisa nocautear o leitor em cada página.
R. N. — Há romances que dialogam diretamente com o espaço, e há outros que praticamente respiram através dele. A trama se passa no período de 2002 a 2016, situada majoritariamente em Brasília. Como essa temporalidade e esse território foram decisivos para moldar a atmosfera do livro e o percurso existencial do personagem principal, o nosso herói, Alessandro Romani?
A. G. — O Alessandro Romani é um cara nascido na segunda metade dos anos 60. Portanto, viveu, quando adolescente e jovem, toda a efervescência da década de 80, com a queda da ditadura, as Diretas Já, a Constituinte, as eleições de 1989 e a queda do Collor, fora a efervescência cultural (Rock BR, poesia marginal). Ele sempre foi politizado, de esquerda, embora para ele política quase sempre tenha sido muito mais por causa da notícia do que de militância. Então, era natural que o momento político do início do século 21 permeasse o percurso do Romani, com ele e seus amigos percebendo não apenas as mudanças de comportamento da sociedade (casamento gay, criminalização do racismo, repúdio ao machismo), mas também a ameaça à democracia, provocada por setores que não aceitam conquistas sociais, e pela incompetência da esquerda em diversos flancos. Como ele mora em Brasília, é natural que a panela disso tudo ferva mais na cidade. Por se relacionar, sem qualquer entusiasmo, com o poder, devido à profissão, Romani tem mais clara a perspectiva dessa batalha entre os opostos, batalha que faz dele vítima várias vezes durante a história.
R. N. — A literatura também é feita de recortes temporais. Aquilo que se escolhe guardar, aquilo que se decide deixar de fora. No Livro Só Vale A Pena Se Houver Encanto (Caos & Letras, 2025), como foi para você escolher quais fatos seriam demarcadores da passagem do tempo e quais memórias ou eventos permaneceriam apenas como ecos?
A. G. — Só Vale a Pena se Houver Encanto tem 360 páginas, algo totalmente fora do padrão de hoje em dia. Você deve imaginar que eu não o escrevi com 360 páginas, que foi necessário cortar muita coisa (muita mesmo). A partir da leitura crítica feita pela Sérgio Tavares, peguei a faca e a tesoura e fui tirar os excessos. E foi justamente isso. Muita coisa saiu porque era repetitiva, porque não acrescentava nada, ou porque não consegui dar a essas passagens valor literário, imprescindível em um romance. Algumas delas viraram contos, e ficaram muito melhores como contos do que como cenas do romance, parece que como contos encontraram seu número. Estarão em um livro de contos que pretendo lançar ano que vem.
R. N. — Perdas e transformações pessoais costumam deixar marcas silenciosas, mas profundas, que acabam moldando a sensibilidade de quem escreve. De que forma essas perdas e transformações pessoais trazem experiência que compõem a espinha dorsal da história e afetam suas escolhas estéticas e narrativas ao longo do romance?
A. G. — Eu escrevo literatura para me administrar emocionalmente, ou, de uma forma mais direta e objetiva: eu faço literatura para não enlouquecer. A história de Alessandro Romani partiu da minha história, e não vejo qualquer problema nisso, mas não é uma autobiografia. No livro, há histórias reais que passaram pelo verniz da literatura; há histórias reais que receberam roupas da ficção; e histórias completamente ficcionais. É muito gostoso fazer isso: brincar com a realidade e com a fantasia, como se a primeira pudesse ser a segunda e vice-versa. Mas eu passei o que Romani (e que quase todo mundo) passou: mortes, desemprego, divórcios… ao contar tudo isso, procurei fugir, de todo o modo, da pieguice, de compor um personagem coitadinho para que o leitor tivesse pena, e para isso me vali da Amparo, a principal coadjuvante do livro, que faz com que Romani entenda que nada do que aconteceu a ele foi sobrenatural, foi coisa de extraterrestre.
R. N. — É curioso notar como a incerteza, quando bem trabalhada, pode se tornar motor criativo. Existe uma dose alta de autoficção entre você e o nosso herói Romani (profissão, cidade natal, quantidade de filhos). No livro Só Vale A Pena Se Houver Encanto (Caos & Letras, 2025), como você conseguiu equilibrar essa fronteira movediça entre vida e invenção?
A. G. — Deixando bem claro para mim mesmo, antes de tudo, que eu não queria contar a minha vida. Eu queria contar a vida de um cara que viveu coisas que eu vivi, mas que não era eu, e então entraram a fantasia, os fatos transformados acrescidos de situações criadas, fatos inventados e situações que partiram de um núcleo real, mas se desdobraram em diferenças. Se eu contasse apenas o que me aconteceu e do jeito que foi, ficaria muito chato, por isso fiz literatura: saí do real, ou do real completo, e dei vida a um cara que, entre outras coisas, viveu situações que eu queria ter vivido, ou pelo menos vivido do jeito que ele viveu.

R. N. — A escolha do que se narra diz muito sobre o escritor, mas a maneira como se narra diz ainda mais. Quais elementos estéticos ou rítmicos você considerou fundamentais para construir a voz narrativa de Alessandro Romani no romance?
A. G. — Eu busco sempre um texto elegante e, quando cabe, poético (sem ser piegas), até porque também sou poeta. Mas acima de tudo objetivo, direto, claro e com períodos curtos, na medida do possível. Fujo de descrições, principalmente de ambientes. Acho enfadonho ficar lendo sobre detalhes de poltronas, tapetes, quadros… eu também descrevo cenários, claro, não há como escapar, mas procuro fazer isso da maneira mais direta e breve possível. O autor tem que facilitar a vida do leitor, não ficar aborrecendo com uma pretensa genialidade textual. Há milhares de autores por aí, alguns ótimos, e eles podem tomar o leitor da gente se a gente não cuidar do leitor. Considero o diálogo algo fundamental para o ritmo de uma história. Deixar tudo na mão do narrador também é maçante, precisa entrar duas, três vozes. Mas diálogo precisa ser pertinente, relevante incisivo, agressivo, engraçado. Precisa ter peso, o leitor precisa imaginar as vozes dos personagens. Mas há de se ter cuidado com um ponto: atenção para não pôr na boca dos personagens o que deve ser do narrador, e vice-versa. É preciso termos perícia para conseguir isso. E, por fim, também quando cabe, lanço mão da ironia, de um pouco de humor. Acho a literatura contemporânea boa, mas muito séria, sisuda. Sou de uma geração que aprendeu a rir de si mesma. Procuro levar isso para meus livros.
R. N. — Gosto de pensar que ser repórter é observar o poder de perto, acompanhar as manobras, as tensões e a volatilidade nos bastidores da vida. A profissão de repórter consegue revelar os jogos e a fluidez das forças políticas, onde cargos, funções e destinos mudam conforme governo e oposição se revezam. O que a ato de fazer literatura tem em comum com esse olhar e com esse modo de perceber o mundo?
A. G. — Penso que o repórter e o escritor (romancista, contista, cronista e poeta) têm em comum um mesmo instrumento de trabalho: a observação. Da mesma forma que o repórter usa a observação para identificar o que é notícia, o que é fato relevante para a sociedade, o escritor precisa estar atento aos arredores para identificar o que pode ser literatura por meio de uma boa história, o que pode lhe trazer uma bela cena, um diálogo forte, um poema bonito, uma crônica pungente. Fatores internos, tais como solidão, tristeza, rompimentos, perdas, indignação, posicionamentos políticos e sociais, alegrias e paixões ditam a necessidade de escrever, mas os elementos externos (lugares, pessoas, acontecimentos, datas) certamente abrigarão a dinâmica literária dessas emoções, e para que eles cumpram uma função no texto literário, é preciso observação. Muitas vezes você vê uma cena, passa por um lugar ou presencia um diálogo interessante e não usa aquilo imediatamente no texto em que está trabalhando, um conto, por exemplo, mas muitas vezes isso fica guardado e, lá na frente, vira literatura. Se não houvesse observação, esse material não estaria nessas gavetas da mente de escritor.
R. N. — Toda escrita se apoia, em maior ou menor grau, numa teoria própria de cada autor. E aquilo que o autor acredita ser o coração da arte. Qual é, para você, a essência do ato de escrever? Existe alguma concepção teórica sua ou de outros autores que te orienta durante o processo criativo?
A. G. — Eu não sou um sujeito afeito a teorias, seja na literatura, no jornalismo, na paternidade ou na vida em geral. O que penso e o que acredito brotaram da vivência do dia a dia, de maneira empírica. Mas algo próximo ao campo teórico, no caso da literatura, é para mim escrever porque preciso escrever. Estando bem ou estando mal, eu escrevo porque preciso, escrevo porque a literatura é uma das formas que eu tenho de fazer diferença na sociedade. Acho que é uma pergunta que todo escritor precisa fazer a si mesmo: eu preciso escrever? É uma necessidade humana que eu escreva? Acho que se não for, talvez seja melhor ir tomar uma cerveja. Escrever para manter uma espécie de status, para chamar atenção nas redes dizendo que é escritor chega a ser patético. É mais do que isso, aliás: é falso, é mentiroso. Quando você escreve por necessidade, você sangra e esse é outro requisito fundamental para mim quando o assunto é escrever: eu preciso sangrar. Para mim, não existe escrever sem sangrar. Se não sangrar, não há necessidade, e escrever sem necessidade é falsidade, é ludibriar o leitor.
R. N. — Há em alguns livros, o encanto dos títulos, que parecem nascer de uma vibração interna, de uma mistura de memória, invenção ou simplesmente de um impacto daquilo que nos move por dentro. Em Só Vale A Pena Se Houver Encanto (Caos & Letras, 2025) nosso herói é movido pelo pulso elétrico que vem do rock. Nos conte o que significa esse “encanto” e como funciona a chave sensível para entender o protagonista?
A. G. — Acho que se você acordar todos os dias e ir para o seu trabalho com alegria e satisfação, e não como um boi a caminho do matadouro, você entenderá o Alessandro Romani no quesito encanto (o personagem tem outros quesitos). Se você transar com alguém e sentir que essa pessoa te tirou do chão (expressão que, inclusive, ele usa no livro), e justamente por isso você quer vê-la novamente, você está entendendo o Alessandro Romani. E assim em tudo, desde aspectos materiais e emocionais a um simples prato de comida, Só Vale a Pena se Houver Encanto. É como a resposta anterior: se não sangrar, é falso.
R. N. — Às vezes a literatura nasce de um gesto quase invisível de um detalhe do cotidiano que se amplia no papel. No livro Só Vale A Pena Se Houver Encanto (Caos & Letras, 2025), como a observação miúda, e também graúda, do dia a dia influenciou seu processo criativo e a condução da narrativa?
A. G. — A observação, seja ela grande ou pequena, é uma espécie de rede que uso para pescar situações e personagens, ou ao menos partes que comporão esses dois elementos. É algo que faço desde meu primeiro livro, publicado em 1996. Portanto, ela não influencia, ela é decisiva, bem como um conjunto de emoções e necessidades que brotam do interior e me levam a escrever, a ter uma necessidade, às vezes desesperada, de escrever. Muitas vezes alguém diz alguma coisa perto, outro está vestido de um jeito, aconteceu um caso, você foi a uma festa, você presenciou um acidente… para mim que escrevo com base na vida real, no quotidiano, a observação é talvez minha principal ferramenta.
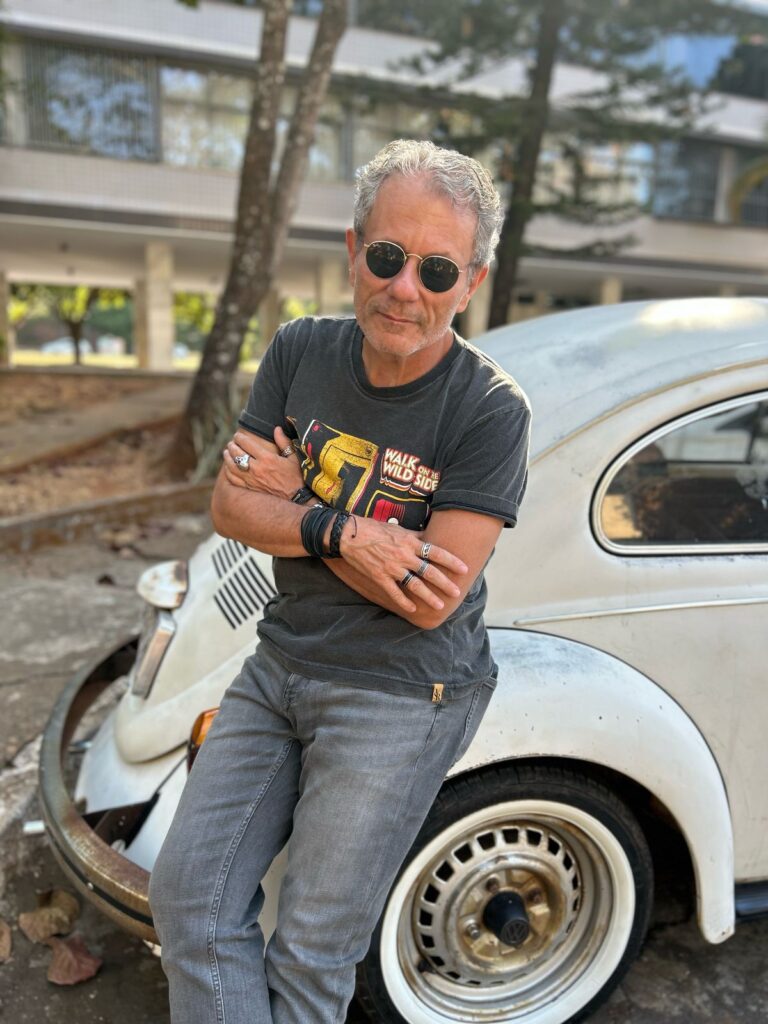
André Giusti é carioca, nascido em maio de 1968. Tem dez livros publicados, sendo o mais recente (abril de 2025) seu primeiro romance, Só Vale a Pena se Houver Encanto, lançado pela Editora Caos e Letras. Antes, também pela Caos, lançou As Filhas Moravam com Ele (contos), semifinalista do Prêmio Oceanos de 2024.
O livro de estreia do autor, Voando Pela Noite (Até de manhã), foi indicado ao Jabuti em 1997 e está na segunda edição, pela Editora 7Letras. Outras obras de destaque do autor são A Liberdade é Amarela e Conversível (7Letras, 2021, 2ª edição); A Solidão do Livro Emprestado (7Letras, 2003 e Penalux, 2018, 2º edição) e A Maturidade Angustiada (Penalux, 2017), todos de contos.
Também se destacam os volumes de poesia Os Filmes em que Morremos de Amor (Patuá, 2016) e De Tanto Bater com o Osso, a Dor Vira Anestesia (Penalux, 2021).
André Giusti também é jornalista, tendo sido diretor de redação âncora e repórter em empresas como Sistema Globo de Rádio (Rádio CBN) e Grupo Bandeirante de Comunicação (Band e Band News FM). O autor mora em Brasília.

![NAVALHAR É PRECISO – ANDRÉ GIUSTI [entrevista]](https://revistanavalhista.com/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-16.09.07.jpeg)
![NAVALHAR É PRECISO – ANDRÉ GIUSTI [entrevista]](https://revistanavalhista.com/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-16.09.07-421x300.jpeg)